INTEGRACION DE AMERICA DEL SUR
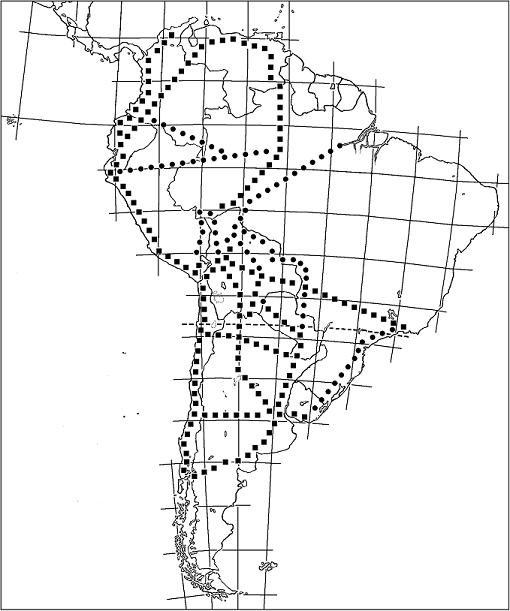
A importância geopolítica da Bolívia e a integração da
América do Sul
Seja com
um novo triângulo estratégico (Santa Cruz, Cochabamba e Tarija) ou
junto ao
Paraguai e ao Centro-Oeste do Brasil, a Bolívia tem uma função
crucial
no processo de integração, como a grande “área de soldadura”.
Segundo
Padula, esses espaços mediterrâneos, situados no coração
continental, “ao mesmo tempo em que sofrem com
o confinamento do interior,
lhes
aufere enorme potencial para exercer o papel de plataforma de
interligação do comércio regional e
bioceânico”. O artigo é de Luciano
Wexell
Severo.
O
objetivo deste artigo é realizar uma breve análise sobre a importância
geopolítica da Bolívia no cenário da América
do Sul, a partir da ótica de
destacados pensadores de diferentes
nacionalidades. Inicialmente será
apresentada uma visão geral do conceito de
Heartland, desenvolvido no início
do século
passado pelo geógrafo inglês Halford Mackinder. A seguir, serão
apresentadas as contribuições de autores como
o brasileiro Mario Travassos,
o
estadunidense Lewis Tambs e os bolivianos Jaime Mendoza, Alipio Valencia
Vega,
Alberto Ostria Gutierrez, Guillermo Francovich e Valentin Abecia
Baldivieso, entre outros. Por fim, é sugerida
uma releitura do papel da
Bolívia
no atual processo de integração regional, frente à recente
diversificação das atividades econômicas, ao
fortalecimento de novas cidades
e à
aplicação da iniciativa para a Integração de Infraestrutura
Sul-Americana (IIRSA).
1.
Heartland de Mackinder
Em 1904,
o geógrafo inglês Halford Mackinder apresentou para a Real
Sociedade
Geográfica de Londres o seu artigo The Geographical Pivot of
History.
No reconhecido trabalho estava presente a sua teoria sobre a “área
pivô”. Em
1919, reapresentou a elaboração com o nome de Heartland (Mello,
1999,
p.45). Segundo a sua interpretação, o mundo estaria dividido em três
zonas: o
Grande Oceano (que abrange três quartos do planeta), a Ilha Mundial
(Europa,
Ásia e África) e as ilhas-continentes menores (Austrália e
Américas).
A grande
área continental, cujo centro estava afastado dos mares, tinha
características geográficas de uma fortaleza
natural rodeada por grandes
acidentes
geográficos, como rios, desertos, geleiras, planaltos e cadeias
montanhosas. Além disso, essa região oferecia
a possibilidade de fácil
projeção
em diversas direções. Tinha poder de articulação territorial e
estava
posicionada no centro de uma grande massa continental (Pfrimer e
Roseira,
2009, p.5). De acordo com Oliveira e Garcia (2010), o conceito de
Heartland
Foi
desenvolvido para categorizar uma vasta região no “coração da Eurásia”,
o maior
de todos os continentes da Terra, ou “Ilha-Mundo”... O Heartland foi
definido
originalmente como um vasto território, com amplo potencial para a
agricultura, pecuária, extrativismo ou
assentamento de grupos humanos. Rica
em
recursos naturais de toda sorte, além de terras férteis ou potencialmente
agricultáveis, reservas de recursos hídricos,
planícies, estepes e
florestas, a zona “pivô” da Eurásia incluía,
em suas definições originais, a
ideia de
rios caudalosos, enormes jazidas de recursos minerais, do ferro e
manganês
ao fósforo e o potássio, enormes reservas de recursos energéticos
como
carvão mineral e petróleo [1] .
No início
do século passado existia, naturalmente, uma forte influência das
teorias
geopolíticas da Europa e dos Estados Unidos nos meios militares
sul-americanos. Foram exatamente autores
relacionados com a área militar que
se
dedicaram a estudar a geopolítica da região. No caso específico de nosso
trabalho,
o mais relevante a destacar é que cerca de vinte anos depois da
formulação de Mackinder o conceito de
Heartland passou a ser utilizado
também
nas análises sobre o território da América do Sul [2] . A principal
contribuição neste sentido foi o trabalho
desenvolvido por Travassos (1935),
depois
reinterpretado por Tambs (1965). Couto e Silva (1955) e Pinochet
(1968)
continuaram utilizando os referenciais teóricos existentes, mas
aproveitaram-se das contribuições atualizadas
pelo geógrafo e
geo-estrategista holandês Nicholas Spykman
[3]. Os cinco pensadores
bolivianos utilizados também agregaram pouco
valor teórico à proposta
original
de Travassos, ainda que representem a visão própria de um país que
perdeu
quase dois terços do seu território em cinqüenta anos, entre 1883 e
1935.
2.
“Antagonismos geográficos” e “Triangulo estratégico” de Travassos
A
primeira edição do livro de Mario Travassos, de 1930, se chamava “Aspectos
Geográficos Sul-Americanos”. Em 1935, o
trabalho foi novamente publicado com
o nome
muito mais audaz de “Projeção Continental do Brasil”. De acordo com a
interpretação deste autor, exatamente no
território da Bolívia ocorria uma
série de
“antagonismos geográficos com resultantes geopolíticas” [4]
relacionados com a sua localização em relação
aos três grandes acidentes
geológicos da América do Sul: a Cordilheira
dos Andes, que divide o
continente a leste e a oeste, e as bacias dos
rios Amazonas e do Prata, que
condicionam uma divisão norte-sul.
De acordo
com essa visão, é no território boliviano, na região que entre
1559 e
1825 foi conhecida como “Audiência de Charcas”, que se unem as
“vertentes” do Oceano Pacífico e do Oceano
Atlântico e que se tocam as duas
principais bacias hidrográficas da região
(Filho, 2004, p.10). A Bolívia
seria,
portanto, o único país da América do Sul a ocupar simultaneamente ou
exercer
projeção sobre todos esses quatro espaços. As tensões sobre o
território boliviano estavam concentradas na
área situada entre as cidades
de Santa
Cruz de La Sierra,
Cochabamba e Sucre. Existia entre essas cidades
um
“triângulo estratégico”, que incluía as importantes cidades mineradoras
de Oruro
e Potosí. Justamente nesta zona, de acordo com Travassos, se
confrontavam abertamente os interesses do
Brasil (“influências amazônicas”)
e da
Argentina (“influências platinas”) pela supremacia geopolítica do
sub-continente. Pfrimer e Roseira (2009, p.6)
lembram que, para o militar
brasileiro, “a chave desses problemas se
encontra no triângulo econômico,
verdadeiro signo da riqueza boliviana”[5].
Travassos
identifica a influência da Argentina, detentora da desembocadura
do rio da
Prata, como uma ameaça sobre a Bolívia. Desde alguns anos antes, o
país
vinha criando vias férreas de comunicação com o Oceano Pacífico no
sentido
leste-oeste (desde Buenos Aires até Santiago do Chile) e no sentido
sul-norte
(desde Buenos Aires até La Paz
e o porto de Arica)[6]. Segundo o
autor, a
estratégia argentina de estabelecer essas linhas verticais sobre o
mapa
sul-americano confrontava claramente com a projeção brasileira de criar
caminhos
no sentido do oeste, buscando permanentemente uma saída para o
oceano
Pacífico.
Para
Leonel Itaussu Almeida Mello (1997), Travassos propunha que o Brasil
lançasse
mão de uma contundente política de comunicações que garantisse a
unidade
territorial e, ao mesmo tempo, assegurasse a projeção brasileira
para a
América do Sul. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas
iniciou-se a construção da linha entre Corumbá
e Santa Cruz de la Sierra,
visando
exatamente ampliar a presença do Brasil na porção oriental do
território boliviano. Naquele momento, ainda
não existia a atual conexão
argentina
entre Buenos Aires e Santa Cruz de la
Sierra [7].
Vale
comentar que Mackinder a usou a ideia de Heartland para falar de uma
área
mediterrânea central que daria ao Estado que a domina capacidade de
mobilidade
e projeção em todas as direções da Eurásia. Ao mesmo tempo era
uma
fortaleza natural. O caso da Bolívia é similar. Uma área mediterrânea
central
que pode ser considerada uma fortaleza natural; um altiplano entre
duas
cordilheiras É uma plataforma de projeção para todas as direções e, ao
mesmo
tempo, está sujeita a sofrer ameaças desde todas as direções. A grande
boliviana
questão é a não utilização destas potencialidades pelo Estado.
3.
“Heartland Sul-Americano” de Tambs
Pfrimer e
Roseira (2009, p.7) argumentam que “em momento algum” Travassos se
referiu à
idéia de Heartland ou Pivô Geográfico da História tal como havia
feito
Mackinder [8]. Consideram que a responsabilidade pela
“reconceitualização dos postulados de
Travassos em direção do conceito de
Heartland
foi proposto pelo professor de História do Brasil na Universidade
de
Creighton, Lewis Tambs”. Este, não Travassos, teria adaptado a ideia de
Mackinder
para a situação da América do Sul. Assim, para o estadunidense,
“quem
controla Santa Cruz comanda Charcas. Quem controla Charcas comanda o
Heartland. Quem controla o Heartland comanda a
América do Sul” (Citado em
Gumucio
& Weise, 1978) [9].
Nota-se
que há um limite para a utilização do termo Heartland no caso da
América
do Sul. Em nossa interpretação a validade do conceito se restringe a
sugerir
semelhanças gerais, que perdem sentido quando se busca generalizá-lo
amplamente. Uma das grandes características
que marca o Heartland
sul-americano é a visível ausência de um poder
integrador político,
econômico
e bélico. O Estado boliviano não assumiu esse caráter.
Antes da
Guerra do Chaco (1932-1935), as elites governantes da Bolívia
fizeram
poucos movimentos no sentido de construir vias para integrar o
território nacional, consolidar as fronteiras
e ocupar as vastas áreas do
oriente,
consideradas “baldias”. Depois da Revolução Nacionalista de 1952,
os planos
de “marcha para o leste” ganharam amplo apoio, com a construção de
infra-estrutura de transportes e serviços. O
projeto buscava ativar uma
linha de
pólos de desenvolvimento, do altiplano, passando pelos vales e
chegando
aos llanos de Santa Cruz, promovendo a integração nacional (Pfrimer
e
Roseira, 2009, p.10). Em 1954, o governo de La Paz construiu uma rodovia
entre
Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra.
Naquele
momento a Argentina e o Brasil já estavam unidos à cidade pelas
linhas de
trem desde Buenos Aires e Santos (Del Bosco, 2006, p.4). O
geopolítico boliviano Alipio Valencia Vega
(2011, p.255) afirma que
La
vastedad territorial de Bolivia, abarcando cuatro regiones tan distintas
entre sí
y, sobre todo, separadas de otras por accidentes geográficos
poderosos, sólo podría mantenerse a condición
de que la acción humana de los
escasos
pobladores de dicho territorio se orientara prácticamente y sin
descanso,
desde el primer día de la independencia, al aprovechamiento
efectivo
de los principales recursos económicos de esas regiones y a la
superación de los obstáculos geográficos,
mediante la apertura de vías de
penetración de unas regiones sobre otras. Si
no se operaba esta acción, los
centros
nerviosos del país siempre estarían sumamente lejanos de la
periferia
de las fronteras, las cuales podían ser seccionadas fácilmente por
los
vecinos, en cuanto fuesen algo más poderosos y se aproximasen en su
acción,
desde sus costas hasta su propio interior.
Veremos a
seguir como, anos mais tarde, alguns autores expandiram os
“limites
originais” do Heartland sul-americano como fruto das descobertas de
maiores
riquezas [10]. A área passou a incluir o norte argentino, o Paraguai
e o
centro-oeste brasileiro. Foi o caso dos militares Couto e Silva (1955) e
Pinochet
(1978), ambos fortemente influenciados pela Doutrina de Segurança
Nacional
contra o “inimigo vermelho”. O Heartland sul-americano ampliado,
riquíssimo em rios, gás natural, petróleo,
minérios e terras férteis passou
a ser
também identificado como estratégico para a segurança regional e vital
para o
processo de integração sul-americana.
Em 1981,
o general brasileiro Golbery do Couto e Silva apresentou a ideia de
que na
configuração geopolítica da América do Sul existiam cinco áreas
continentais. No caso de nosso estudo, o mais
pertinente é fazer referência
à “Área
Geopolítica Continental de Soldadura”, integrada pelo Paraguai, a
Bolívia e
os estados brasileiros de Mato Grosso e Rondônia (Freitas, 2004,
p.49-50).
É interessante destacar que dez anos antes, em 1946, no livro “Una
obra y un
destino”, o boliviano Alberto Ostria Gutierrez já havia falado em
termos
muito parecidos e inclusive utilizado a expressão “soldadura”[11].
Outro
destacado pensador boliviano, Jaime Mendoza realizou trabalhos que
resgataram a identidade nacional e enalteceram
a nacionalidade. Seu livro
“El
macizo boliviano”, de 1935, teve grande influência ao desenvolver ideias
nativistas que relacionavam o território
retalhado com a fortaleza cultural
do país.
O intelectual descreveu o maciço desta maneira:
Hemos
llamado Macizo de Charcas y por extensión Macizo Boliviano, a esa
formidable expansión geográfica de los Andes
sudamericanos que se halla en
la parte
céntrica de su recorrido de más de cuatro mil kilómetros por las
costas
del Pacífico. De ella dijimos que constituye el eslabón más grueso y
pujante
de cuantos integran la cadena andina, dilatándose al oriente hacia
el
corazón de Sudamérica, cual si quiera darse de mano con el macizo del
Brasil.
O general
Pinochet (1978), bastante influenciado pelas ideias de Golbery,
descreve
a região da seguinte maneira:
Pela sua
situação relativa na América do Sul não tem função isoladora, mas,
ao
contrário, de atração, articulação e soldadura entre os países que a
rodeiam.
Pela sua configuração, poderia ser comparada a um gigantesco imã
que une
as peças do conjunto e que se deixasse de atuar desmoronaria
desarticulando-se[12].
4. Três
conflitos, três derrotas
Os três
conflitos bélicos enfrentados pela Bolívia resultaram em
significativas perdas territoriais. No momento
de sua criação, em 1825, o
país
tinha um território três vezes maior que os atuais 1,09 milhão de
quilômetros quadrados. A situação foi
totalmente alterada pela Guerra do
Pacífico
contra o Chile, a Questão do Acre contra o Brasil e a Guerra do
Chaco
contra o Paraguai. Ainda que a interpretação das razões e do
desenrolar desses choques armados seja
bastante complexa, podemos apontar
dois
fatores como os determinantes: a desatenção do Estado boliviano com as
fronteiras distantes das principais cidades e
a participação de empresas
estrangeiras no centro dos embates [13].
Na Guerra
do Pacífico (1879-1883), a Bolívia perdeu a sua única saída para o
mar. Em
1825, com a independência boliviana, as autoridades chilenas haviam
reconhecido (aceitado) os limites entre os
dois países. No entanto, por
volta de
1830 surgiu um novo elemento como detonador do conflito: as
descobertas no litoral da Bolívia de imensas
reservas de guano, nome dado às
fezes de
aves e morcegos acumuladas sobre as pedras. Devido aos grandes
conteúdos
de nitrogênio, fosfatos e amoníaco, o material era amplamente
utilizado
como fertilizante no empobrecido solo da Europa. O surgimento da
química
agrícola e a maior intervenção sobre as terras pobres alavancaram os
preços
internacionais dos fertilizantes.
Posteriormente também foram identificadas na
região imensas concentrações de
salitre,
outro tipo de adubo. A partir de então, as províncias de Tarapacá e
Antofagasta e o deserto de Atacama ganharam
relevância. Centenas de
quilômetros de ferrovias passaram a conectar
os portos bolivianos, de
Antofagasta, com a cidade de Oruro, passando
por Uyuni, no departamento de
Potosí.
Os
autores bolivianos analisados associam o estouro da guerra com os
movimentos de empresas anglo-chilenas para
apoderar-se de uma área rica,
despovoada e praticamente abandonada pelo
Estado boliviano. Por outro lado,
alguns
documentos chilenos, como o de Liberona (2002), atribuem o conflito
ao fato
do país discordar dos limites territoriais determinados de forma
“arbitrária” pelo marechal Antonio José de
Sucre, em 1825. O citado autor
faz
referência à ordem expressa de Simón Bolívar para Sucre: “dar un puerto
para
Bolivia a cualquier costo” [14].
A Questão
do Acre (1902-1903) também é bastante intricada. De acordo com o
general
brasileiro Carlos de Meira Mattos (1980), os antecedentes do
conflito
estão presentes nas contendas sobre a navegabilidade nos rios
fronteiriços entre o Brasil e a Bolívia. Desde
1826, os sucessivos governos
brasileiros rechaçaram inúmeras propostas
apresentadas por bolivianos e
estadunidenses para autorizar a navegação de
embarcações estrangeiras em
águas
interiores do território brasileiro.
Na
prática, entretanto, a eclosão do enfrentamento coincidiu com o surto da
borracha.
O foco estava nas seringueiras, de cujo látex se produzia a
borracha
cada vez mais utilizada pela nascente indústria automobilística dos
Estados
Unidos e da Europa. Incapaz de defender as suas remotas províncias
do
nordeste, a Bolívia optou, com o apoio do governo dos Estados Unidos, por
transferir o controle da região ao
Anglo-Bolivian Syndicate de Nova Iorque.
O
“Sindicato” assumiu o controle efetivo sobre o Acre, com o monopólio de
exploração
da borracha na área e amplos poderes para administrar, arrecadar
impostos
e organizar polícias. A empresa tinha como principal executivo um
primo do
presidente estadunidense Theodore Roosevelt e como um dos maiores
acionistas o banqueiro inglês Rothschild.
As
tensões com o governo brasileiro foram crescentes até a assinatura do
Tratado
de Petrópolis, em 1903, no qual a Bolívia abriu mão do território do
Acre.
Como contrapartida, o Brasil ofereceu dois milhões de libras
esterlinas e a proposta de construir a
ferrovia Madeira-Mamoré, que
possibilitaria uma saída boliviana pelo oceano
Atlântico via Belém do Pará
(Reyes,
2010, p.61-62).
Desde os
tempos coloniais, a região do Chaco sempre recebeu pouca atenção e
era
caracterizada por imprecisões na demarcação das fronteiras. A Guerra do
Chaco
(1932-1935) colocou frente a frente os dois países mais pobres da
América
do Sul, que lutaram de forma cruel por uma porção de terra inóspita,
seca,
arenosa e despovoada. Alguns autores, como Chiavenato (1980),
relacionam o conflito com as descobertas de
jazidas de petróleo no Chaco,
por volta
dos anos 1920. Como na Bolívia as explorações eram feitas pela
estadunidense Standard Oil, enquanto no
Paraguai os trabalhos estavam a
cargo da
inglesa Shell, a guerra seria resultado dos interesses dessas
petrolíferas.
No
entanto, outros autores, como Gumucio (1978), interpretam que o
enfrentamento teve suas origens em motivos
mais estruturais. É necessário
tomar em
conta a conjuntura de crise dos anos 1930, a queda das exportações
bolivianas de estanho e a sublevação que tomou
conta do país. Além disso,
para a
Bolívia, depois de perder a saída para o Pacífico, a relevância do
Chaco
estava na possibilidade garantir uma saída para o Atlântico pela via
dos rios
Paraguai e da Prata. Em poucos dias, a tentativa boliviana de obter
rapidamente o controle de portos no Rio
Paraguai se transformou em uma
terrível
empreitada.
Gutierrez
(1946) considera que com o término da Guerra do Chaco fechou-se
para a
Bolívia uma etapa da vida nacional. Acabou-se o processo de
configuração territorial e foram estabelecidos
os limites internacionais do
país. De
acordo com o autor, “estaban terminados los pleitos fronterizos con
todos los
vecinos, bien o mal, justa o injustamente, por la razón o por la
fuerza,
habían sido trazadas todas sus fronteras y suscritos los convenios
respectivos” [15].
5. O
“triângulo estratégico” hoje
As
medidas promovidas pelo Estado boliviano depois da Guerra do Chaco
tiveram impacto
visível sobre o ordenamento territorial do país. A nova rede
de
caminhos e estradas possibilitou a migração e estimulou o surgimento de
novas
cidades. Além disso, pode-se afirmar que um dos principais resultados
da
“competição” brasileira e argentina pelo controle de Charcas foi o
progressivo fortalecimento do oriente
boliviano, através de investimentos,
estímulos
financeiros, construção de infraestrutura e estabelecimento de uma
maior
oferta de serviços públicos. O triângulo estratégico proposto por
Travassos
foi alterado [16].
Santa
Cruz de la Sierra,
de pequena vila jesuítica estabelecida em 1561 ao
pé da
cordilheira de Cochabamba, transformou-se rapidamente em um importante
centro de
articulação continental e em motor econômico da Bolívia [17].
Graças à
intensa integração com o Brasil em diversos setores, como o
agrícola
e o energético, a zona já é interpretada como uma macro-região
associada
ao estado de Mato Grosso. Santa Cruz e o oriente boliviano contam
com os
privilégios de localização disponíveis ao Heartland.
A região
tem relações tanto com o Pacífico como com o Atlântico,
potencializadas pelos projetos da iniciativa
para a Integração da
Infraestrutura Sul-Americana (IIRSA) [18].
Somente na Bolívia, são 53 obras
de
infraestrutura em marcha, como ferrovias, hidrovias, rodovias, sistemas
intermodais, energia e fibra ótica [19].
A
tendência é que ganhe força uma visão global de planejamento e organização
para a
integração regional sob critérios políticos e estratégicos, e não
mais pelo
simples estímulo do mercado ou das empresas privadas. A integração
de
infraestrutura, agora dirigida pela UNASUL, poderia articular a
integração física com os esforços de ampliar o
comércio intra-regional e de
expandir
a complementação das cadeias produtivas.
Neste
novo contexto, e somado à possibilidade de ingresso do país ao
Mercosul
nos próximos anos, a importância do território boliviano só tende a
aumentar.
Seja com um novo triângulo estratégico (Santa Cruz, Cochabamba e
Tarija) ou
junto ao Paraguai e ao Centro-Oeste do Brasil, a Bolívia
continuará tendo uma função crucial neste
processo, como a grande “área de
soldadura”. De acordo com Padula (2011), esses
espaços mediterrâneos,
situados
no coração continental sul-americano, “ao mesmo tempo em que sofrem
com o
confinamento do interior, sua posição lhes aufere enorme potencial
para
exercer o papel de plataforma de interligação do comércio regional e
bioceânico”.
Notas
(*)
Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP),
Mestre e Doutorando em Economia Política
Internacional pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Professor visitante da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA). Agradeço os
valiosos
comentários do colega e professor Raphael Padula, da UFRJ.
Artigo
publicado no Seminário de Pós-Graduação da Associação Brasileira de
Relações
Internacionais (ABRI), realizado nos dias 12 e 13 de julho de 2012,
em
Brasília.
[1] José
Luis Fiori (2011) considera que “Mackinder formulou um novo
princípio
e uma nova teoria geopolítica, que marcaram a política externa
inglesa
do século XX. ‘Quem controla o coração do mundo comanda a ilha do
mundo, e
quem controla a ilha do mundo comanda o mundo’. A ‘ilha do mundo’
seria o
continente eurasiano, e o seu ‘coração’ estaria situado – mais ou
menos –
entre o Mar Báltico e o Mar Negro, e entre Berlim e Moscou”.
[2] De
acordo com os bolivianos Baldivieso (1986, p.44) e Francovich (1985,
p.96), já
no início do século XX, o cientista alemão Alexander Von Humboldt
referiu-se ao atual território da Bolívia como
“Maciço central dos Andes”,
“Peru
interno” e “promontório da América do Sul”.
[3]
Segundo Fiori (2007), Spykman “partiu das idéias de Halford Mackinder,
mas
modificou sua tese central. Para Spykman, quem tem o poder mundial não é
quem
controla diretamente o ‘coração do mundo’, mas quem é capaz de
cercá-lo,
como os Estados Unidos fizeram durante toda a Guerra Fria e seguem
fazendo
até os nossos dias”. O Heartland perde importância frente ao
rimland.
[4]
Segundo Baldivieso (1986, p.48), o antagonismo proposto por Travassos
“podría
decirse que estaba insatisfecho y que había conformado un país
vacilante
en su triple rol sobre la hoyas amazónica, del Plata y del
Pacífico,
pero en ninguna de ellas gravitó con la fuerza necesaria para
definir
sus destinos como nación de estructuras centrípetas. Los
internacionalistas y geopolíticos bolivianos,
insistentemente, anotan su
indudable
rol en los tres caminos continentales, pero ocultan, muy
comprensiblemente, su debilidad e
invertebración que hizo de ella un país
vacilante”.
[5] Vale
apontar para o interessante fato de Ernesto Che Guevara ter
decidido
iniciar a sua guerrilha exatamente no meio do “triângulo
estratégico”, mesmo contra as orientações do
Estado cubano. O argentino
insistia
que desde a localidade de Vallegrande seria possível projetar a
luta
armada para os demais países da região. Em 1967, foi capturado e morto
por
Rangers estadunidenses e pelo exército boliviano.
[6]
Também foi criado acesso para Assunção, estabelecendo contato com as
capitais
de três importantes países.
[7]
Pfrimer e Roseira (2009, p.11) apontam que “Por pressão argentina e
pelas
dificuldades de se romper os contrafortes andinos entre Cochabamba e
Santa
Cruz, construiu-se um ramal ligando Santa Cruz até o departamento de
Tarija e
daí até o norte argentino. Assim a malha ferroviária oriental
boliviana
se integra, ainda hoje, à ocidental apenas em território
argentino”. Ou seja, até os dias atuais não
existe um ramal entre Santa Cruz
e
Cochabamba.
[8]
Afirmam que “talvez a única passagem que tenha sido mal interpretada
posteriormente é aquela em que o marechal
brasileiro afirmava a força
coordenadora do Brasil em direção longitudinal
no território sul-americano:
‘Em
primeiro lugar, as grandes linhas de massa continental - as cumiadas dos
Andes
dividindo-a em duas vertentes, a vertente de leste trabalha pelos
compartimentos de duas imensas bacias – a do
Amazonas e a do Prata. Em
seguida,
o fato dessas duas bacias se encontrarem em uma sorte de pivot,
emergindo
das formações da Cordilheira – o planalto boliviano – a partir do
qual os caudais
daquelas bacias se colocam verdadeiramente em antagonismos’.
O uso da
palavra pivot deve ser interpretada no contexto do parágrafo e do
livro,
nesse sentido ela não faz referência ao Pivô Geográfico da História
de
Mackinder, mas sim ao fato do planalto boliviano se constituir numa área
de
ligação entre a Bacia do Prata e Amazônica”.
[9] Tambs
afirma que “a história mostrou a importância dessa região durante
os
impérios pré-colombianos Aymara e Inca e mais tarde durante a colonização
espanhola,
quando o altiplano e Charcas eram centros de poder. O Alto Peru
permaneceu o centro nervoso do poder espanhol
na América do Sul até o final
do
Império espanhol... O rimland sul-americano cercou Charcas. Sob a falta
de
liderança boliviana, o Heartland não teria mais força para agir e foi
coagido.
Vista como a luta pelo Heartland de Charcas, a história
sul-americana dos séculos XIX e XX se torna
inteligível (Idem, 1978). O
autor
utiliza o conceito de rimland, de Spykman, de 1942.
[10] Com
o objetivo de definir uma abrangência física ao conceito de
Heartland
sul-americano, Oliveira e Garcia (2010, p.10) elaboraram um mapa
azimutal
equidistante centrado na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. A
figura
mostra as principais cidades sul-americanas com mais de 500 mil
habitantes. A partir do ponto central, em um
raio de 2300 quilômetros se
encontram
as principais cidades do Cone Sul e dentro de um raio de 3100
quilômetros estão todas as maiores cidades da
América do Sul.
[11]
Segundo este autor, “situada en el centro de la América Meridional,
cabecera
de los tres grandes sistemas hidrográficos – Amazonas, Plata y
Pacífico
– nexo entre dos océanos, limítrofe de cinco naciones, obligado
paso de
norte a sur y de este a oeste, la geografía impone a Bolivia, no una
función
aisladora y de aislamiento, sino de atracción, de articulación, de
unión, de
soldadura entre los países que le rodean”.
[12]
Pinochet concebe o Estado como um “organismo formado por Territorio o
espacio,
Población o masa humana y Soberanía. Estos adquieren una
constitución semejante a una ameba en el que
se distinguen: las fronteras o
capa
envolvente cuya resistencia está de acuerdo con el grado de
potencialidad del núcleo vital, el
‘Heartland’, las comunicaciones y el
Ciclo vital
del Estado, que está demostrado por la historia de la humanidad
en el
transcurso de los siglos: nacer, desarrollarse y morir”.
[13]
Reyes (2010) apresenta uma análise atual e detalhada dos três
conflitos.
[14]
“Tarapacá foi cedida em caráter definitivo ao Chile, que ainda recebeu
a posse
temporária de Tacna e Arica – acerca das quais desenvolveu-se uma
longa
disputa diplomática que somente veio a ser resolvida em 1929. Os
últimos
soldados chilenos deixaram o Peru em agosto de 1884. O armistício
com a
Bolívia (abril de 1884) permitiu ao Chile continuar no controle do
Atacama
até a negociação de um acordo de paz definitivo, que somente se
materializou em 1904” (Collier, citado em
Reyes, 2010, p.56). Até os dias
atuais a
Bolívia move judicialmente demandas para retomada de sua saída para
o mar,
mantendo a sua pequena frota estacionada no Lago Titicaca.
[15] Vega
(2011, p.257) considera que “Las mayores pérdidas territoriales de
Bolivia
no fueron realizadas por la vía diplomática, sino que fueron
consecuencias de diversas guerras o
‘revoluciones’ sostenidas con los países
vecinos.
Diplomáticamente se perdieron parte del territorio del Litoral [no
el propio
litoral, sino un pedazo de la provincia del Litoral] cedido a
Chile en
1866 y los territorios cedidos a Brasil en el norte y el oriente en
1867,
también más tarde el territorio de Bermejo y la Puna de Atacama
cedidos a
Argentina por el tratado de 1889. Igualmente, la zona de Tambopata
al Perú en
1909. Todos los demás territorios, o sea el Litoral sobre el
Océano
Pacífico, el Acre y el Chaco fueron perdidos como consecuencia de
guerras
que sostuvo Bolivia con los países vecinos: Chile, el Brasil y el
Paraguay.
En el fondo de estas guerras que aparecen en sus causas como
esencialmente políticas, hay una influencia
económica poderosa. Se producen
esos
conflictos armados por la codicia de la riquezas naturales existentes
en los
territorios disputados por las armas; riquezas naturales que son
materias
primas altamente apreciadas en los mercados del mundo”.
[16] Del
Bosco (2006, p.6), fazendo referência a Travassos, afirma que “si
tuviéramos que actualizar su pensamiento
respecto a Bolivia, dejaríamos de
lado el
triángulo Sucre-Cochabamba-Santa Cruz de la Sierra y hablaríamos a
futuro de
un eje sur-norte, conformado por los departamentos de Tarija y
Santa
Cruz de la Sierra. El
primero con la segunda reserva de gas en América
del Sur,
eje con capacidad para proyectarse exteriormente. Tarija gracias al
impulso
de los hidrocarburos es el departamento que más ha crecido. Durante
el
período 1988-2004 su PBI se incrementó en 191%”. Por sua vez, Pfrimer e
Roseira
(Op.cit., p.12-15) consideram que “A influência dos discursos
geopolíticos brasileiro e argentino,
principalmente no que concerne o
conceito
de triangulo estratégico boliviano, sobre suas políticas
territoriais, acabou ao longo dessa disputa
materializando em solo boliviano
um
triângulo. Não aquele representado por Travassos, uma vez que Sucre
deixou de
ser a capital política do país e tem perdido cada vez mais sua
importância econômica. Ademais, a expansão
econômica de Tarija, após a
descoberta das importantes reservas de gás e
petróleo, a colocou como um dos
quatro
principais centros urbanos do país. Essa área com o formato
triangular é constituída por uma rede urbana
de três cidades principais:
Santa
Cruz, Cochabamba e Tarija. Envoltos e bem articulados a esses centros
urbanos
principais há ainda centros secundários como Potosi, Oruro, Sucre e
Yacuiba... Esse novo arranjo territorial detém
aproximadamente 60% do
Produto
Interno Boliviano, quase metade da população boliviana e 98 % e
99,2% das
reservas provadas de gás e petróleo na Bolívia, respectivamente”.
Tomando
em conta os projetos de corredores bioceânicos que passam pelos
países
andinos, acredita-se que a área do novo triângulo possa constituir-se
no futuro
Hub Logístico Sul-Americano.
[17]
Existem boas rodovias que conectam Santa Cruz com Cochabamba, La Paz e
os portos
do Peru (Matarani e Ilo) e do Chile (Arica e Antofagasta).
Igualmente, há oferta para o leste até Corumbá
e os portos do Rio Paraguai
(um canal
liga Puerto Aguirre, Puerto Quijarro e Puerto Suárez à Hidrovia
Paraguai-Paraná, na fronteira com o Brasil).
Nos últimos anos, tem avançado
o projeto
de ativação do Puerto Busch, localizado na fronteira boliviana com
o
Paraguai. Este é o chamado “Mar guarani”, que permitirá um acesso direto
da Bolívia
ao oceano Atlântico via rio Paraguai, sem a necessidade de
navegar
pelo canal de Tamengo. O novo caminho permitirá intensificar os
investimentos em atividades como petróleo,
gás, ferro das minas de Mutún e a
produção
agrícola. As redes ferroviárias já integram Santa Cruz com o
Atlântico
(até Santos e Buenos Aires) e quase até o Pacífico. Há planos de
ligar a
região com o sistema amazônico, até Porto Velho, Manaus e Santarém.
[18] A
IIRSA foi criada em 1990 sob a orientação do “Regionalismo Aberto” da
CEPAL e
do “Novo Regionalismo” do BID. A iniciativa funcionaria como a
espinha
dorsal da proposta estadunidense de anexação continental, a chamada
Área de
Livre Comércio das Américas (ALCA). A proposta da IIRSA, que
continuou
existindo apesar do enterro da ALCA em Mar del Plata, em 2005, se
concentrou no fortalecimento de
"corredores de exportação", aprofundando
ainda
mais a condição de nossos países como vendedores de mercadorias de
baixo
valor agregado para os centros industriais. A mudança atual está na
criação
do Conselho de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) dentro da
União de
Nações Sul-Americanas (UNASUL). Desta forma, os governos assumiram
a direção
do processo e a tendência é intensificar as obras orientadas para
a efetiva
integração regional em energia, transportes e comunicações.
Entende-se como essencial que os Estados
nacionais e as populações
fortaleçam o seu poder de intervenção nos
projetos.
[19] Del
Bosco (2006, p.5) aponta que “hoy Santa Cruz, además de petróleo,
madera,
caña de azúcar y ganadería, ha desarrollado el cultivo la soja y ha
pasado a
constituirse en un centro de importantes inversiones de
agricultores argentinos y brasileños. Su PBI
representa el 30% del total de
Bolivia,
la actividad agropecuaria el 43%, la del comercio el 36,2% y la
industria
manufacturera el 35%. Por su parte sus bancos acaparan el mayor
movimiento financiero del país”.
Bibliografia
BALDIVIESO, Valentin Abecia. Las relaciones
internacionales en la historia
de
Bolivia. Tomo III. Editorial Los Amigos del Libro, Cochabamba, 1986.
CHIAVENATO, José Julio. A guerra do Chaco
(leia-se petróleo). São Paulo,
Brasiliense, 1980.
COUTO E
SILVA, Golbery do. Conjuntura Política Nacional, O Poder Executivo e
a Geopolítica
do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1981.
COUTO E
SILVA, Golbery do. Geopolítica do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria
José
Olympio, 1955.
DEL
BOSCO, Guillermo. Travassos, Santa Cruz de la Sierra y la Política
Exterior
Argentina. Centro Argentino de Estudios Internacionales. Programa
Política
Exterior Argentina, 2006. www.caei.com.ar
FILHO,
Oscar Medeiros. Da confrontação à cooperação: as alterações
geopolíticas na América do Sul, 2004.
FIORI,
José Luís. Nicholas Spykman e a América Latina, Le Monde Diplomatique
Brasil,
24/11/2007.
FRANCOVICH, Guillermo. El pensamiento
boliviano en el siglo XX. Editorial
Los
Amigos del Libro, Cochabamba, 1985.
GUMUCIO,
Mariano Baptista e WEISE, Agustín Saavedra. Antología Geopolítica
en
Bolivia. Cochabamba: Ed. Los Amigos del Libro, 1978.
LEWIS,
Paul H. O Paraguai da Guerra da Tríplice Aliança à Guerra do Chaco.
In:
História da América Latina: de 1870
a 1930, volume V. Org. Leslie
Bethell.
São Paulo: Edusp, 2008.
LIBERONA,
Javier Sánchez. Mediterraneidad de Bolivia. Efectos geopolíticos
de una
eventual salida al Pacífico. Revista de la Marina de Chile, 2002.
MEIRA
MATOS, Carlos. Uma geopolítica pan-amazônica. Rio de Janeiro:
Biblioteca
do Exército. 1980.
MELLO,
Leonel Itaussu de Almeida. Quem tem medo da Geopolítica? São Paulo:
Edusp,
1999.
MELLO,
Leonel Itaussu de Almeida. Geopolítica do Brasil e a Bacia do Prata.
Manaus:
Editora da Universidade Federal do Amazonas, 1997.
OLIVEIRA,
Lucas K. & GARCÍA, Tatiana de Souza L. O conceito de Heartland na
geopolítica clássica: Funcionalidade e limites
para a análise da Região
central
da America do Sul. V Encontro Nacional da ANPPAS, Florianópolis,
outubro
2010.
OLIVEIRA,
Márcio Gimene de. A Ferrovia Bioceânica Paranaguá-Antofagasta e a
controvérsia entre o modelo
primário-exportador e o modelo
desenvolvimentista. Revista Oikos, Volume 10,
nº 2, 2011. pp. 243-266.
PADULA,
Raphael. Infraestrutura, Geopolítica e Desenvolvimento na Integração
Sul-Americana – Uma visão crítica à IIRSA.
Laboratório de Estudos da América
Latina
(LEAL), 2011.
PADULA,
Raphael. Uma concepção de integração regional, papel da
infraestrutura e ocupação dos espaços a partir
de Friedrich List, Raúl
Prebisch,
Gunnar Myrdal, Albert Hirschman e Celso Furtado uma visão crítica
ao
regionalismo aberto e à IIRSA. In: II Coloquio de la Sociedad
Latinoamericana de Economía Política y
Pensamiento Crítico (Sepla), Buenos
Aires,
2008.
PINOCHET,
Augusto. Geopolítica de Chile. Buenos Aires: El Cid, 1978
PFRIMER,
Matheus Hoffmann. Heartland Sul-Americano? Dos discursos
geopolíticos à territorialização de um novo
triângulo estratégico boliviano.
GEOUSP -
Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 29, pp. 131 - 144, 2011.
PFRIMER,
Matheus Hoffmann & ROSEIRA, Antônio Marcos. Transformações
Territoriais na Bolívia: Um Novo “Triangulo
Estratégico”?. In: 12º Encuentro
de
Geógrafos de América Latina. Montevideo, 2009.
REYES,
Fernando Siliano. O papel das vias de circulação na coesão
territorial do Estado boliviano: da Audiência
de Charcas à Bolívia de 1971.
Dissertação ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana
da USP, 2010.
